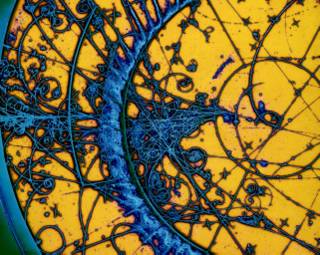por António Lobo Antunes [Visão/ 9 de Setembro de 2004]
O meu pai morreu no dia 10 de Junho, há dois meses e meio. Pouco antes o Miguel perguntou-lhe - O que é que gostava de nos ter transmitido? e ele respondeu, sem hesitações
- O amor das coisas belas
pensou um bocadinho e acrescentou
- Ou pelo menos das coisas que eu considero belas.
Sou eu que ocupa agora o seu lugar à mesa, na cadeira de braços, na extremidade oposta ao sítio em que costumava sentar-me. O mundo parece diferente visto da cabeceira. Ainda não me habituei por completo.
Julgo que me encontro em paz com ele. Desde os dez ou onze anos a minha vida tem um sentido de que nunca se afastou, e me acompanhará, com a mesma determinação, até ao fim: escrever. Toda a minha arquitectura mental a construí com esse objectivo e o resto encaro-o como secundário.
Nunca quis agradar a ninguém, nunca procurei reconhecimento nem aplauso e, portanto, nunca pedi muito ao meu pai, e a sua opinião era-me igual ao litro. Um mérito ele e a minha mãe tiveram, e estou-lhes grato por isso: não me encheram de amor e atenção, o que teria matado em mim o artista: no que diz respeito às emoções mais secretas estive sempre sozinho. Em contrapartida, a criatura de quem herdei o lugar à mesa inculcou-me o ódio impiedoso a três coisas: a desonestidade, a cobardia e a falta de rigor. Tão pouco lhe escutei, uma vez sequer, um exagero, uma mentira. Recebi dele o desprezo ou indiferença pelas coisas materiais, a frugalidade e, sobretudo, o tal amor das coisas belas: nada mau como legado. Não existiram, entre nós, efusões, confidências, pieguices: não era meu amigo, era apenas meu pai.
Não era amigo dele, era seu filho. Durante dois meses e meio tenho pensado no que sinto em relação a um homem com o qual não possuo a menor semelhança física e cujo feroz egoísmo, cuja impulsiva violência me surpreendiam.
(serei assim tão diferente?)
e é-me difícil explicar. Em que medida foi importante para mim? Amava-o? Faz-me falta?
Como responder a estas três questões? É muito clara, na minha cabeça, a noção que me fiz a mim mesmo, sem ajudas, e que, com qualquer outra família, a minha existência teria sido idêntica. Quanto ao amor não sei: afigura-se-me que não é uma palavra que possa aplicar à minha relação com o meu pai e, no entanto, um estranho elo me prende à sua lembrança: não o consigo definir, o que não me inquieta demasiado. Quanto a fazer-me falta julgo que me faz falta no sentido em que cresci junto dele, junto dele e longe dele ao mesmo tempo. Era eu muito pequeno e dizia-me poemas, dava-me livros para ler, falava com entusiasmo dos seus pintores, dos seus compositores, dos seus escritores, que só parcialmente são os meus. O meu pai não foi uma pessoa criativa, não detinha o mínimo sentido de humor embora o notasse capaz de apreciar o dos outros, mas viveu apaixonado pelo seu trabalho, pelas coisas que considerava belas, espero que por mulheres também. Suponho que foi feliz, seja o que for que isso signifique. Irascível, cruel, ciumento, perdoando-se unicamente a si, era igualmente capaz de guinadas de generosidade e de autêntico afecto. Contraditório, infantil, comodista. Estava aqui a fazer esta crónica e vieram-me à ideia os seus letreiros: o tubo de cola com um papel que dizia:
ESTA COLA É DO PAI NÃO MEXER
em maiúsculas e sublinhado, a tampa de uma lata de tinta com que andava a pintar, não me lembro o quê, na Praia das Maçãs, e
ISTO NÃO É CINZEIRO
e creio que a melhor homenagem que lhe fizeram foi a do meu irmão Nuno: estava o corpo na igreja, na antecâmara, numa mesinha, de toalha preta, a salva para os cartões-de-visita, o Nuno, em maiúsculas e sublinhado, encostou à salva
ISTO NÃO É CINZEIRO
e tenho a certeza absoluta que o meu pai teria adorado. No dia da sua morte fomos os seis filhos, juntos, ao Hospital da CUF: parecíamos um comando da Al Qaeda. Não, faltava o João que tinha ido a Bragança receber um penduricalho presidencial: fomos os outros cincos mas parecíamos um comando da AL Qaeda na mesma, em versão pele branca e olho azul. Isso ele teria adorado também, espero eu. Levávamos-lhe a roupa, aquela vestimenta comprida de professor. Claro que chorei: por ele, por mim, pela incompreensível finitude da vida: não somos feitos para a morte. Depois da missa disse-lhe um soneto do seu amado Antero. E lá ficou, consoante o seu desejo, em campa rasa, num caixão de pobre. Tive vontade, ao dar com ele no caixão, de lhe pôr em cima um letreiro
ISTO NÃO É O MEU PAI
porque o meu pai não era aquele. O meu pai é um homem de trinta anos a jogar ténis na Urgeiriça e a fazer fosquinhas às inglesas. O meu pai é um homem de trinta e tal ou quarenta anos a entrar-me no quarto, onde eu fumava às escondidas, de papéis na mão, a ler-me um parágrafo qualquer da tese de doutoramento, em que penou durante séculos, para me perguntar
- O que é que achas?
Eu nem o ouvia, ocupado a esconder o cigarro, e respondia-lhe que achava bem para o ver pelas costas. Há uma semana reli a sua tese, pai, com a atenção que pedia a um adolescente desesperado para disfarçar uma beata. Posso responder-lhe hoje que acho bem. Palavra de honra que acho bem. Volte para o escritório sossegado que escreveu uma tese do caneco. E, já agora, tenho saudades do cheiro do cachimbo. Tenho saudades de irmos de automóvel para Nelas. Tenho saudades de patinarmos no Benfica. O Nuno, aos três anos, com uma peritonite
- Eu vou morrer e quero o meu paizinho. Isto nunca esqueci. Ia morrer
(foi um milagre não ter morrido)
e queria o paizinho dele. Sempre que lembro esta frase comovo-me tanto:
- Eu vou morrer e quero o meu paizinho. esta frase e a cara de sofrimento do meu irmão. Foi graças a si que ele não morreu. Foi graças a si que não morri da meningite. Não pense que me esqueço. Não esqueço. Paizinho